O bloco Body Beach é conhecido por seu cortejo maravilhoso e sua banda contagiante. Nayra Costa é uma artista que leva a música e a identidade cearense por onde passa, e nesteprograma vamos conhecer mais sobre o bloco e a carreira dela. A Casa da Nayra Nayra nos recebe em sua casa, localizada em um Beco charmoso, uma vilinha aconchegante. Sua casa é um verdadeiro espaço de arte, com obras de vários artistas que são amigos dela. Quadros, luminescentes e até mesmo uma vitrola compõe a decoração. Ambiente Acolhedor O ambiente da casa de Nayra é acolhedor e cheio de histórias. Ela conta que sempre fez questão de ter o trabalho dos amigos em sua casa, e mostra alguns quadros que foram presentes de artistas como Jadson Rodrigues e Zeza. Homenagens e Lembranças Nayra também guarda lembranças de lugares e eventos especiais. Ela tem uma iluminação do Gato Preto, uma toca-vinil especial presente do Cantinho do Frango e até mesmo um quadro feito por fã. Cada objeto carrega uma história única. Praia do Bloco Body O bloco Body Beach nasceu de uma ideia meio maluca, mas que se tornou realidade. Com personagens como a Iracema de José de Alencar, o bode Ioiô, a gata do brilho e o poeta Mário Gomes, o bloco traz a história e a cultura de Fortaleza para o carnaval de uma forma lúdica e divertida. A Importância do Bloco O Bloco Body Beach vai além do entretenimento, ele conta o folclore e a história de Fortaleza. Naiya diz que é importante despertar a curiosidade e o conhecimento nas pessoas, através do carnaval e dos personagens que são apresentados no desfile do bloco. Levando o Body Beach para Todos Nayra tem o desejo de levar o Bloco Body Beach para outros locais, além da beira do mar. Ela quer contar a história do bloco para as periferias e outros bairros de Fortaleza, através de projetos educacionais e ferramentas como QR Codes. A Parceria com Marinho Naya e Marinho são parceiros tanto na vida pessoal quanto na carreira. Eles conseguem separar o profissional do cotidiano, o que traz leveza e equilíbrio para a relação. A parceria tem sido maravilhosa e eles têm maturidade para lidar com os desafios. Fica evidente a importância do Bloco Body Beach na construção da cultura e identidade de Fortaleza. Além do entretenimento, o bloco desperta curiosidade, conta histórias e valoriza a cultura local. Naira Costa e Marinho são artistas incríveis que levam a música e a alegria por onde passam. @lugarartevistas http://www.lugarartevistas.com.br #arteondeestiver #artevismossocial #sejaartevista
Bom Jardim e Pantanal: Lugares Incríveis Cheios de Histórias
O Bom Jardim e o Pantanal são dois lugares incríveis, cheios de histórias e belezas naturais. Durante uma visita a esses locais, pude conhecer mulheres incríveis e ouvir suas experiências e vivências que fazem parte dessas comunidades.
No Bom Jardim, um bairro localizado na cidade de Fortaleza, pude sentir uma sensação de gratidão e encantamento. O amor por esse lugar só aumentou quando tive a oportunidade de conhecer o Pantanal, um lugar que se tornou amor à primeira vista.
Ambos os lugares são marcados pela importância da educação e da integração entre teoria e prática na formação do ser ambiental. Cada ação, cada gesto e cada participação positiva para o desenvolvimento dessas comunidades.
A arte também tem um papel fundamental nessas localidades. No Bom Jardim, a resistência e a cultura estão enraizadas na comunidade. A poesia é uma expressão artística muito presente, capaz de transmitir sentimentos e emocionar quem a ouve.
Conversando com diversas pessoas, pude perceber a relação profunda entre a poesia e o lugar em que vivem. Através da escrita, essas pessoas conseguem se expressar e se entender melhor. A arte se torna uma forma de resistência e superação.
Além disso, a maternidade também é uma inspiração para a poesia. Ser mãe fortalece e traz garra para enfrentar os desafios da vida. É emocionante ver como a arte é passada de geração em geração, com filhos recitando poesias ao lado de suas mães.
No Pantanal, pude presenciar a transformação de um lugar de lixo e abandono para um ambiente rico em arte e natureza. A sensibilidade para enxergar o potencial nos resíduos sólidos e nas comunidades é algo que nasce desde a infância.
Desde cedo, aprenda a importância de cuidar da natureza e reaproveitar materiais que seriam descartados. Essa relação com os resíduos sólidos e com a preservação ambiental é algo que se fortalece ao longo da vida.
Ao trabalhar nessa área, é fundamental ter o coração e a alma aberta para a diversidade e para a escuta atenta das comunidades. Ouvir as pessoas e entender suas necessidades é o primeiro passo para realizar transformações significativas.
Além disso, a participação comunitária e a união de forças são essenciais para alcançar resultados positivos. Juntos, somos mais fortes e podemos fazer a diferença em nossas comunidades.
No Padre Andrade, outro bairro marcante de Fortaleza, pude acompanhar as transformações e a força da igreja na construção social. A Associação Porta da Esperança realiza diversas ações na comunidade, como capoeira, desenho, empreendedorismo e assistência psicológica.
Ao ouvir a história e os desejos dos moradores desse bairro, fica evidente a importância do olhar para as periferias e para as comunidades carentes. Essas pessoas têm suas histórias e lutas, e merecem ser ouvidas e valorizadas.
A associação dos moradores é um exemplo de como a união e a organização podem trazer benefícios para a comunidade. Através desse trabalho coletivo, é possível promover mudanças e melhorias em diversas áreas.
Assim como no Bom Jardim e no Pantanal, o amor, a arte e o empreendedorismo são elementos presentes no Padre Andrade. As pessoas desse bairro são fortes e estão sempre em busca de seus direitos e de uma vida melhor para todos.
Ao visitar esses lugares, pude perceber a importância de conhecer e valorizar a nossa cidade, suas histórias e suas comunidades. Cada lugar tem suas particularidades e belezas, e é essencial nos apropriarmos delas com carinho e gratidão.
Espero que você tenha gostado desse passeio por esses lugares incríveis. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos conhecer e valorizar a nossa cidade, suas histórias e suas comunidades. Até a próxima!
Leci Brandão a potência de sua Geração
Por Roberta Bonfim
O samba, o tambor, o pandeiro mexem com meu corpo, mas a voz de Leci mexe mesmo é com minhas memórias infantis e juvenis e com o meu coração, meu imaginário sobre o carnaval, a beleza das histórias cantadas sobre nós. Assistir Leci Brandão e sua potência humana ali no palco foi das coisas mais emocionantes dos últimos tempos e hoje é o último dia deste espetáculo na cidade.
Isso mesmo, Leci Brandão está em Fortaleza, mais especificamente na Caixa Cultural Fortaleza, através do Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural. Desde quarta-feira, até hoje, 18 de novembro, o show “Leci Brandão – Eu Sou o Samba”. Leci aos desavisados, é um dos grandes nomes da música brasileira, é fundamental para o que hoje chamamos representatividade. Quando isso ainda não era pauta, Leci já representava Madureira, o Samba, a Mulher Negra e potente que é. Tanto que suas canções seguem atuais e junto outros clássicos da música Brasileira são cantados em coro com a plateia. Isso porque músicas como “Só quero te namorar”, “Zé do Caroço” e “As coisas que mamãe me ensinou”, “Olodum força divina”, “Madalena do Jucu”, “Papai vadiou”, “Deus do fogo e da justiça”, dentre outros estão no imaginário de todes nós.
Eu particularmente logo de chegada já senti no bater dos tambores os calores e afetos, e sem perceber eu já chorava e agradecia a oportunidade de estar ali, naquele momento vivendo aquele nosso momento e na primeira fileira do teatro. Todes sabemos que a primeira fila não é legal para a cervical e que essa proximidade às vezes quebra a magia, mas Leci e sua banda são gente do samba, gente que de cedo sacou que a magia consiste em ser de verdade, simples, profissional, familiar e sincronizado. Lindo de se viver.
Existem além do espetáculo em si, outros espetáculos à parte, como a competência dos músicos, que evidenciam a importância de cada instrumento e som, na composição do todo que é a música cantada por Leci Brandão. Que se só no palco, falando da vida já seria incrível, pois ela vai desfazer 80 anos em 2024 e canta o show inteiro sem pesca, lembra o nome e lugar de nascença de cada ser que integra a equipe do show que apresenta. E só não sambou porque não podia, mas deixou-se de corpo e alma abertos e em troca com os felizardos que estavam ali. Eu estava e vibrava de uma alegria intensa e tal hora o corpo precisou liberar e fui para lateral do teatro e sambei uma música inteira, tudo que eu precisava antes de voltar para minha cadeira, mas que eu teria extrapolado, não fosse a moça gentil da Caixa me lembrar de ficar quieta no meu lugar. Eu fique, cantando auto, até perder a voz. Cantei com Leci, a vi pequenina, em seu figurino azul com o mar, com sua voz potente que ainda esta aqui a em mim ecoar e fui lembrada mais uma vez e sempre que somos a integração de nossas competências.
Agora eu queria ter tempo de correr atrás de um Vinil de Leci para pedir que ela autografe, mas meu dia está corrido e eu já atrasada, assim fecho por aqui com o convite a quem possa hoje ou logo menos se presentear com este espetáculo de tudo que é assistir ao show “Leci Brandão – Eu Sou o Samba”, onde a artista com mais de 40 anos de carreira e 25 álbuns gravados e muitos desfiles de carnaval e roda de samba. Gratidão Leci Brandão pela sua existência, presença, corpo, voz, som e poesia que nos compartilha.
Para deixar tudo ainda mais incrível eu estava na incrível companhia da minha comadre Katiana Monteiro e ainda encontramos e trocamos outros abraços. ❤
Era 09 de novembro, quinta -feira e faltavam 10 minutos para as 17 horas quando cruzei os portões da Caixa Cultural Fortaleza, a fim de assistir teatro. Assim, ao cruzar o portão, logo senti uma liberdade de estar ali só indo ao encontro de uma fila já grande para pegar o ingresso. De chegada por conta do meu hábito de ouvir conversas alheias, descobri que os ingressos só serão distribuídos às 19 horas. Depois de uma correria para estar ali naquele momento. O espetáculo “Eu de Você”, com a inspiradora Denise Fraga, que cruzou a fila e derramou sua gentileza e alegria com os que esperavam para assisti-las. Se eu que estava já cansada na fila, estava profundamente emocionada ao olhar tanta gente esperando para assistir teatro, imagino a emoção desta atriz. Por falar na fila que inicialmente não parecia agradável, acabou por virar um ponto alto deste dia. Pois ali conheci figuras ímpares e ótimas companhias para ir ao teatro, algo parecido com o reencontro que logo viveríamos também no ato do espetáculo.

As 20 horas tocou o primeiro sinal. Denise recebe seu público, conversa, abraça, combina, alerta, sorrir e rememora uma professora de geografia e o seu triz, que Clarice Lispector chamava de momento epifânico, para mim um estado de presença. E o teatro é efetivamente um estado de presença e Denise Fraga, com a direção delicada de Luiz Villaça. A direção musical de Fernanda Maia é irrepreensível e lindamente executada pela musicistas Ana Rodrigues, Clara Bastos e Priscila Brigante, que atentas somam-se a luz, que no cenário projeta sombras, camadas, memórias, imagens, outro ponto são as projeção desses perssonagem que são e somos. Sons e luzes ambientam o palco para incrível atuação de Denise que compartilha inicialmente memórias suas, para depois nos compartilhar histórias de tantes, e tal hora tá mesmo tudo misturado, costurados, inclusive as nossas vidas, em outros corpos, que podem também ser os nossos, mas ali é o seu. Nos joga na lata as rotinas desumanas, as relações atóxicas, uma carência gigante, o patriarcado e a não priorização do amor em muitas camadas.
logo ali
o assunto preferido daquela
falta de perspectiva eram
os terrenos baldios que ela colecionava.
décadas depois, os terrenos baldios
continuavam trabalhando, de fato ou de medo,
como latas de lixo com molduras insensatas. Pronto.
.
sair da calçada, correr entre os carros,
não ser atropelado por pouco e descobrir outra rua,
por enquanto interditada, que cala um aviso:
seu atraso inevitável
.
insistem que essa rua inédita vai chegar logo,
como se ela nunca tivesse saído daqui,
como se ela nunca tivesse abandonado a gente

Sem céu
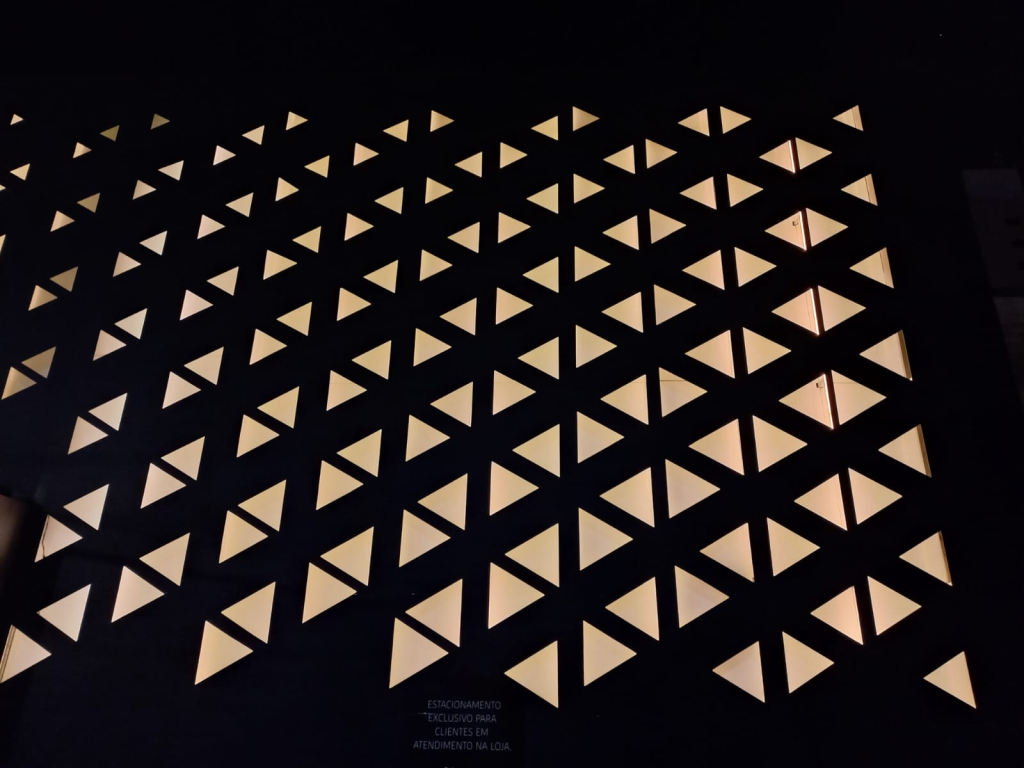
extraterrestres descalços esperando ser raptados por nós

A arte do jejum, ainda

Um bairro, cada vez mais abandonado, onde os poucos moradores restantes anotam hábitos, confirmações, conversas conhecidas, repetecos, como que insistindo em dizer hoje os minérios de antigamente, sem poder ou querer trafegar o tropeço, enquanto uma ou um deles
.
escreve sobre a ponte e seu futuro mergulho ornamental, deixa a ponte virar rio, esse currau que, quanto mais se percorre, maior se torna, alguma brecha da cerca foi promovida a porta de saída com o espírito de uma pequena calvície,
.
escreve este bairro de outros, o meu nome do lado de fora (onde uma voz interrompe calada encontros marcados sem se dissolver na cara fechada dessa água),
.
escreve, aliás, o fato de aquelas palavras, raramente reunidas num mesmo frasco (erros que nunca souberam viver juntos), pouco visitarem por n motivos os membros restantes da vizinhança ou de outro lugar do mundo e isso quem sabe vai significar por enquanto que alguma frase escavada por aqui, provavelmente incolor, de sabor desconhecido, não desista do jejum que lhe obrigam e só termine depois do ponto final, ou sem tanta pressa.

Janaína

Acervo pessoal.
Valmira (depois Janaína), negra,
colecionou involuntária preconceito
e assédios desde a infância.
Não muito amada pelos poucos familiares.
Autoestima em falta na prateleira.
Cresceu, resistiu, veio sorte, obedeceu com inteligência
às oportunidades boas. Os segundos namorados
lhe deram mais respeito e amor;
seu marido pontuou ainda melhor que eles.
Em resposta, ou encomenda, ela conseguiu revestir a
sensação de descartável com a habilidade de amar.
Se houve dependência emocional no trajeto,
é verossímil que as pedras nos rins não
tenham crescido mais que o cérebro.
Emprego bem-sucedido como atriz e cantora.
Aparecia nas mídias.
Sucesso de público basicamente.
Teve consolos materiais e sempre falou
em favor das pessoas negras, contra o racismo e a pobreza.
Um dia, morreu,
deitada sobre uma fileira alta de décadas,
ignorada pela mais recente crise de insônia da bolsa ou da Monsanto.

Acervo pessoal.
A parábola dos pés

Acervo pessoal.
a vida me passou a limpo
óbvio desautorizada
um mofo maroto embaixo da pele em nome do
aperto que tanta gente como eu digitaliza digitalizou
brindo aos meus passos quebradiços minha
insônia esperta impaciente dançando com a taça de vidro sobre o crânio
ou antes
sobre o cabelo envolvente e emaranhado
(“linhas emaranhadas são mais urgentes que se paralelas”, disse)
até que ela, a taça, caia e quebre e
vezes vezes é mesmo tão bonito viver ainda
(enquanto predadores variados se amarguram mais fácil
quando ou nem quando tudo se transforma em
merda ao menor toque)
vou chamar de destino
na falta de utensílio melhor
o motivo que me acolhe me atravessa
apontado pro meu corpo
os pés sobem e descem
sinuosa sobrevivência
homenageada por menos palavras senão
obrigada a mim
obrigada à turma
e obrigada
também
a ninguém

Foto da garota Alice, registrada e autorizada por sua mãe, Lara
Injustiça nunca mais
Na semana em que um terço da humanidade renova votos de esperança, de amor ao próximo e de justiça social, três eventos me tocaram fortemente. Trata-se de episódios distintos que guardam relação entre si por refletirem a dor maior da injustiça.
O primeiro foi o aniversário de 59 anos do golpe militar de 1964, cujos desdobramentos marcaram de maneira indelével toda a sociedade brasileira, temática que abordo no romance “O segredo da boneca russa”, inspirada no período sombrio que durou mais de duas décadas. Para alívio de milhões de brasileiros, as Forças Armadas proibiram neste ano celebrações festivas do golpe. Comemorar torturas, estupros e assassinatos de estudantes e ativistas políticos é desumano.
O segundo evento é de cortar o coração na semana sagrada dos cristãos: a retirada das barracas dos moradores de rua na cidade brasileira mais rica sem que houvesse uma solução efetiva para a situação indigna. Essas pessoas precisam de moradia de verdade, não de abrigo.
É revoltante que qualquer defesa que se faça aos mais vulneráveis seja rebatida de modo maldoso e debochado: “Pegue a sua casa e a divida com os pobres!”. Parece que o tempo não passou desde os primórdios da era cristã.
Li estarrecida no perfil das redes sociais do Padre Júlio Lancellotti, 74 anos, um defensor obstinado dos excluídos, comentários do tipo: “Padre comunista, tá com pena, leva pra casa!”; “Abra as portas das igrejas pra esse pessoal dormir e pare de encher o saco”; “Militante esquerdopata”. Felizmente a maioria o apoia e se sensibiliza com a sua missão na Pastoral do Povo de Rua, em São Paulo.
O terceiro evento é de uma crueldade sem medida, porque envolve quatro criancinhas assassinadas a machadadas por um homem esculpido no ódio.
Diante desses relatos, como pensar em Feliz Páscoa? Se o grande líder espiritual de um terço da humanidade voltasse ao mundo, estou convicta de que seria visto pelas calçadas das metrópoles cuidando e defendendo os desprezados pela sociedade, lutando contra a tirania e espalhando o amor. Para renovarmos a esperança é necessário primeiro combatermos toda forma de desumanização e injustiça.
Ilustração compartilhada do perfil do artista espanhol @agustin.delatorre.zarazaga
@padrejulio.lancellotti
